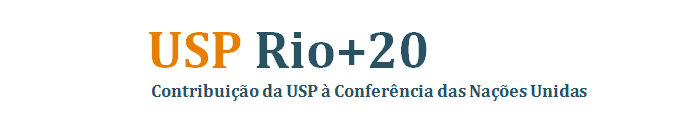Simulação de cenários de desmatamento na Amazônia
Este trabalho teve como objetivo avaliar o impacto do desmatamento da Amazônia nas características meteorológicas da região. Para tal, foi utilizado o modelo atmosférico RAMS (Regional Atmospheric Modelling System), na versão brasileira (Brazilian RAMS – BRAMS). Foram realizadas diversas simulações usando diferentes cenários de desmatamento da região Amazônica. Tais dados foram fornecidos por um modelo estocástico e descrevem o uso do solo dos anos de 2002 até 2050 em dois cenários: “governance” ou “GOV” (onde medidas governamentais são adotadas, resultando em desmatamento controlado) e “business as usual” ou “BUS” (onde as taxas históricas de desmatamento se mantêm). As simulações foram feitas por períodos de 45 dias (onde os 15 dias inicias foram desconsiderados) para as estações chuvosa, seca e de transição com as informações de vegetação de 2002 e de 2050. As condições de contorno laterais foram as fornecidas pelas reanálises do NCEP do ano de 2002. De maneira geral, o cenário BUS causa efeitos mais pronunciados do que o cenário GOV, em virtude das taxas de desmatamento mais elevadas. Devido à alteração do balanço de energia, ocorreu um ligeiro aumento da temperatura próximo à superfície nas regiões desmatadas. Dentre os 3 períodos analisados, o impacto foi mais notável na estação seca. A precipitação também foi uma variável que apresentou sensibilidade ao desmatamento da Amazônia, com uma diminuição dos índices pluviométricos sobre as regiões de maiores taxas de desmatamento. Os efeitos na chuva foram mais perceptíveis nas simulações do período chuvoso, especialmente pelos baixos índices de precipitação simulados nos demais experimentos. Como a mudança no uso do solo altera parâmetros da floresta diretamente relacionados com a circulação, também foi encontrado um impacto na magnitude do vento simulado em todos os cenários e períodos do estudo. A diminuição da altura média do dossel vegetativo e a da rugosidade ocasionaram a queda no atrito entre a superfície e o ar e o conseqüente aumento da magnitude média do vento simulado. Os impactos mencionados na temperatura e na precipitação não se deram de forma homogênea, havendo uma importante variabilidade espacial das diferenças simuladas dessas variáveis. Regiões de aquecimento se mostraram relacionadas com regiões de esfriamento nas suas vizinhanças (bem como regiões de intensificação/enfraquecimento da precipitação), sugerindo a existência de circulações de mesoescala induzidas pelas diferentes características de superfície. A análise dos movimentos verticais médios simulados para cada estação indicou um padrão organizado nas simulações do período chuvoso (com movimentos descendentes sobre as regiões desmatadas e ascendentes sobre as vizinhas) e um padrão mais complexo para as estações seca e de transição. A circulação média nos níveis iniciais da atmosfera mostrou a interação do fluxo sinótico médio (essencialmente de leste na região estudada) com a convecção localizada. Como o fluxo sinótico médio é 8% (no período de transição) ou 26% (no período seco) superior ao fluxo do período chuvoso, a interação entre os movimentos dessas duas escalas se deu de maneira muito mais intensa nas estações seca e de transição.